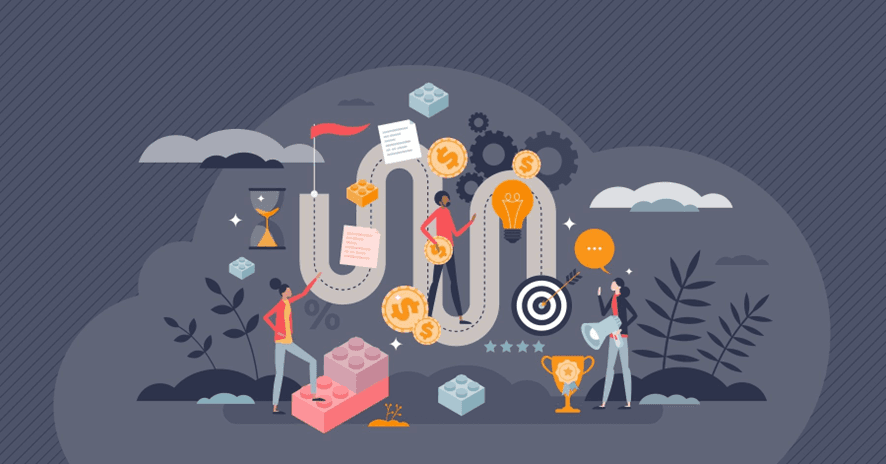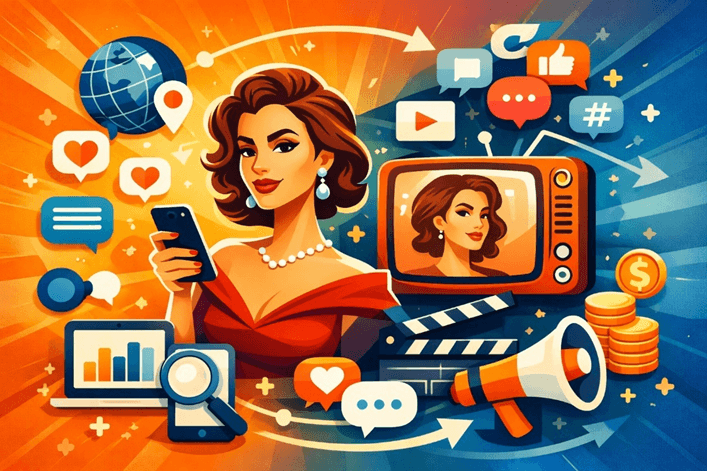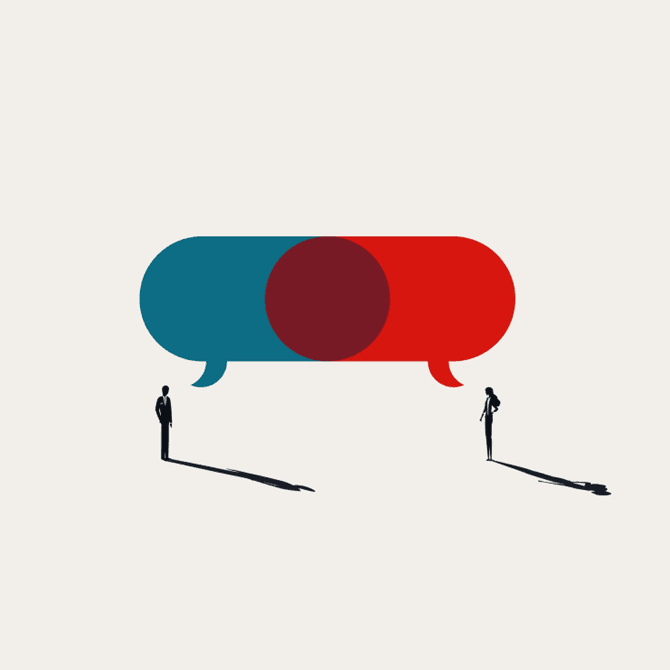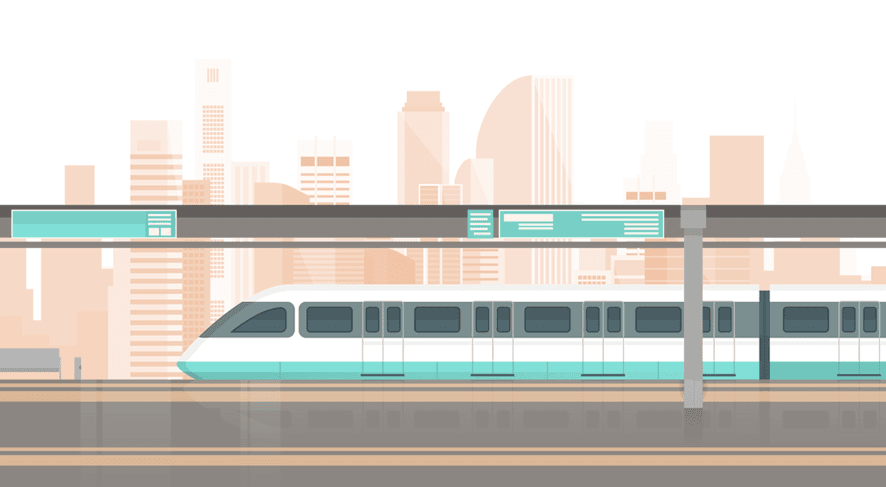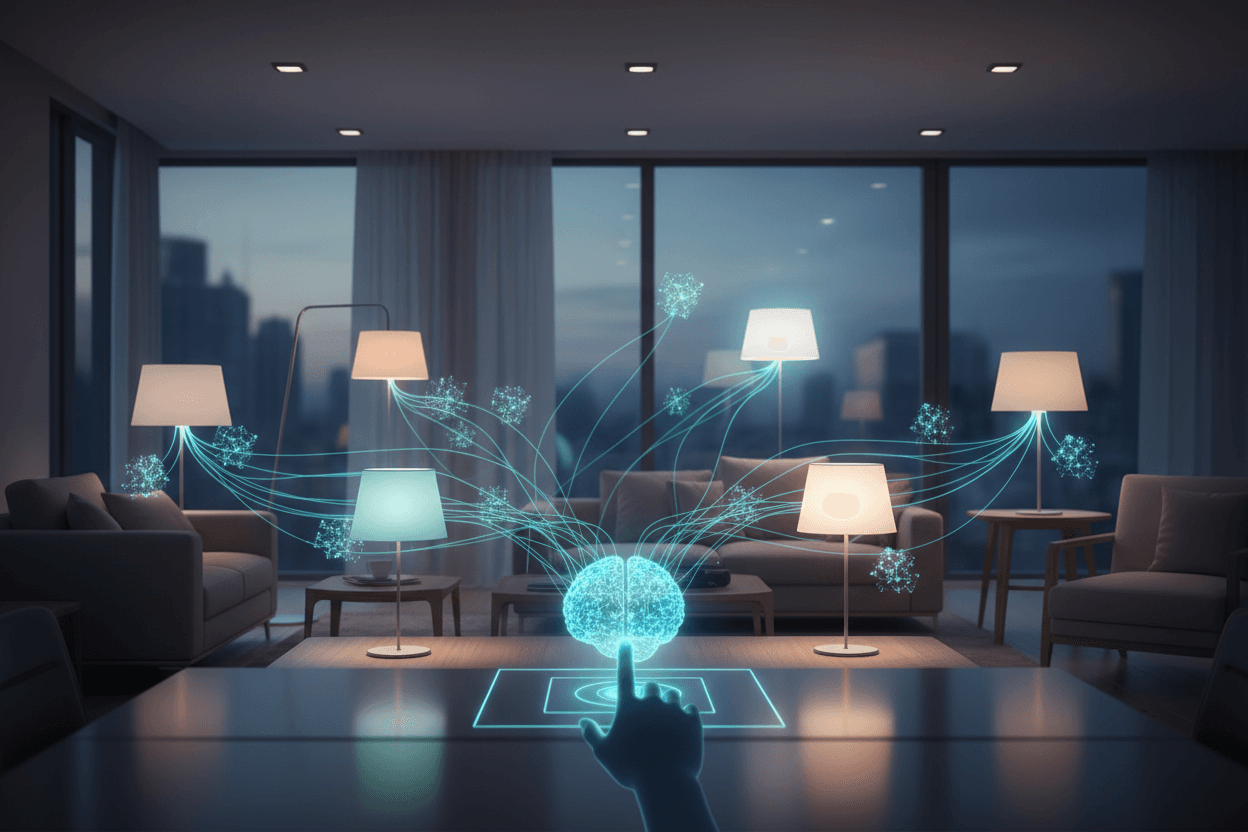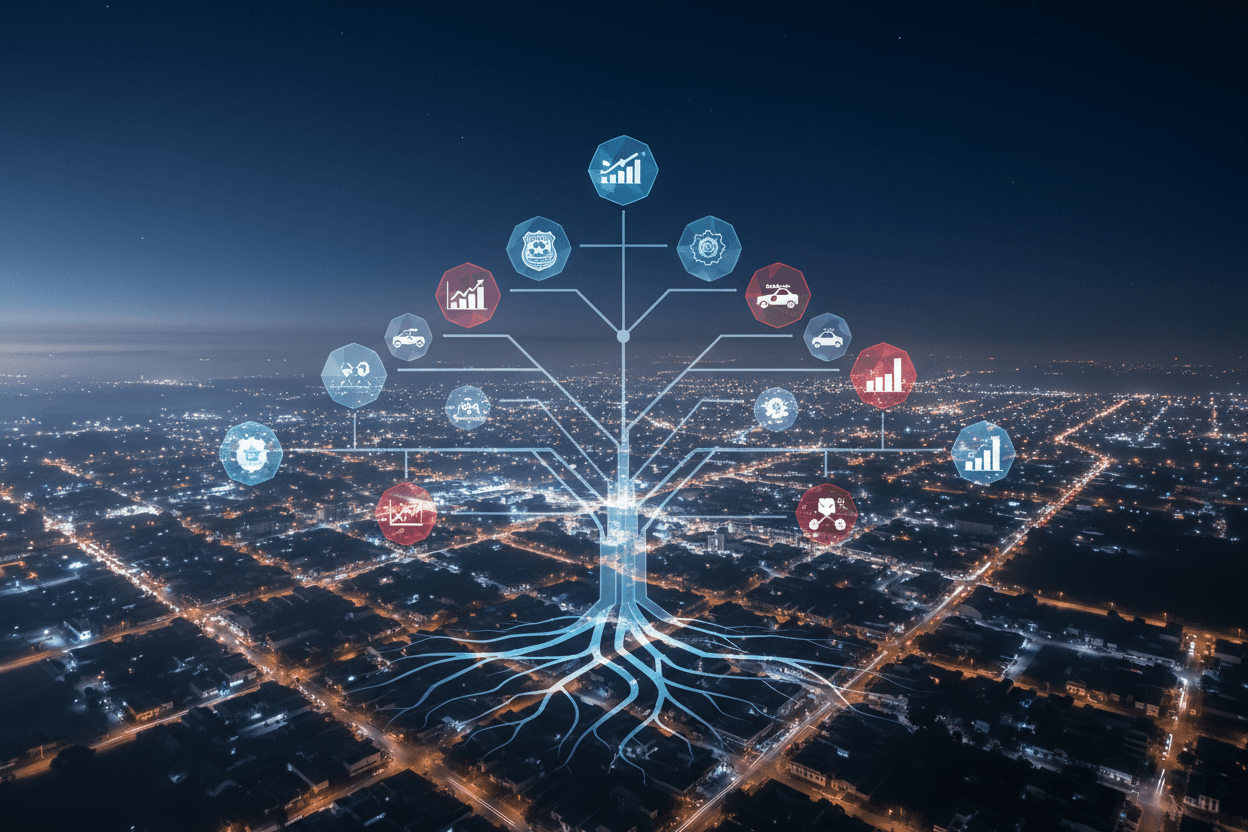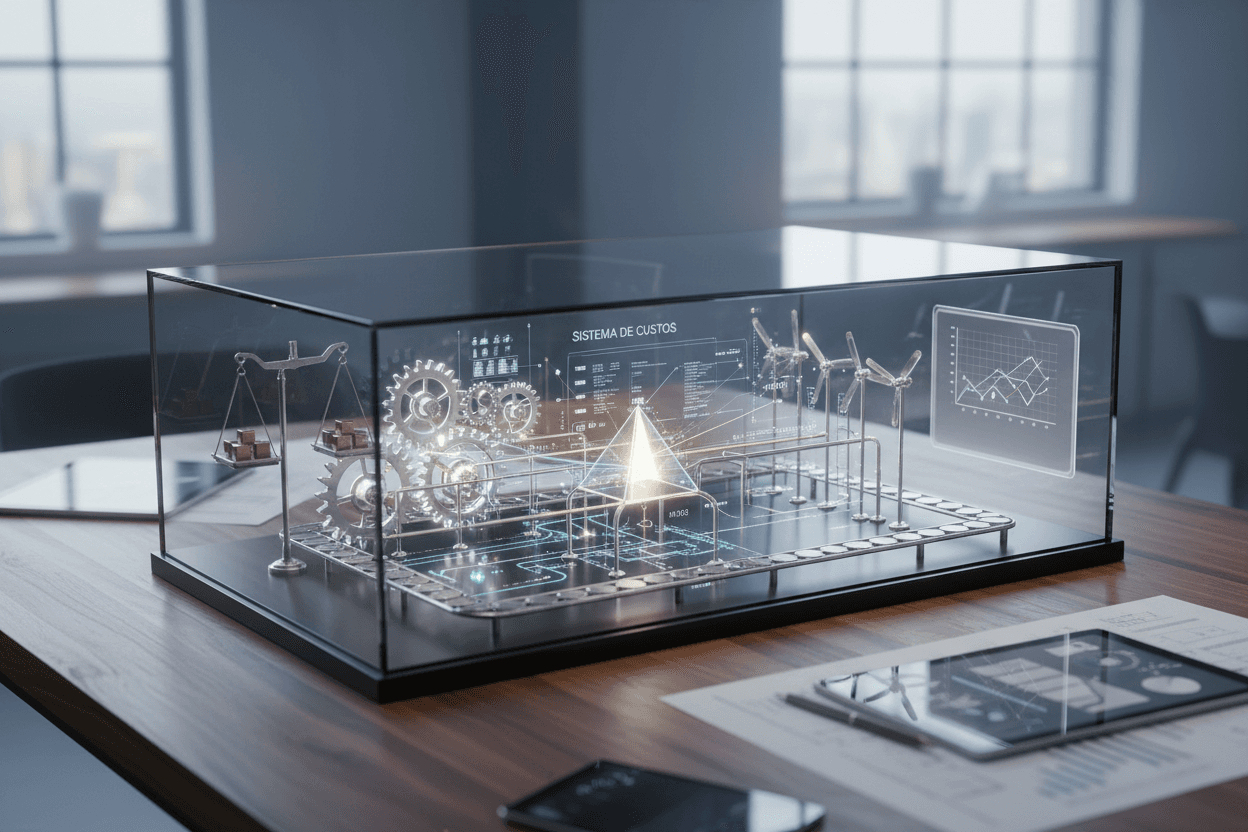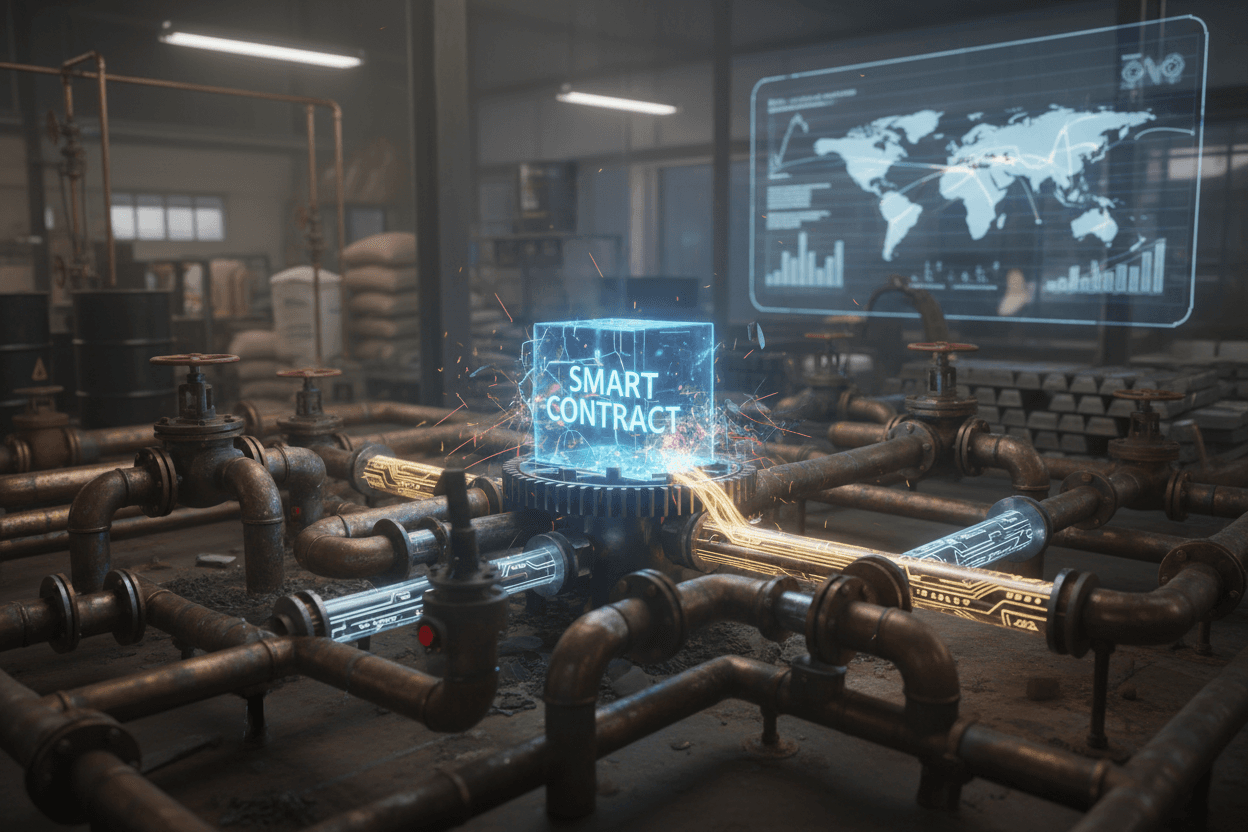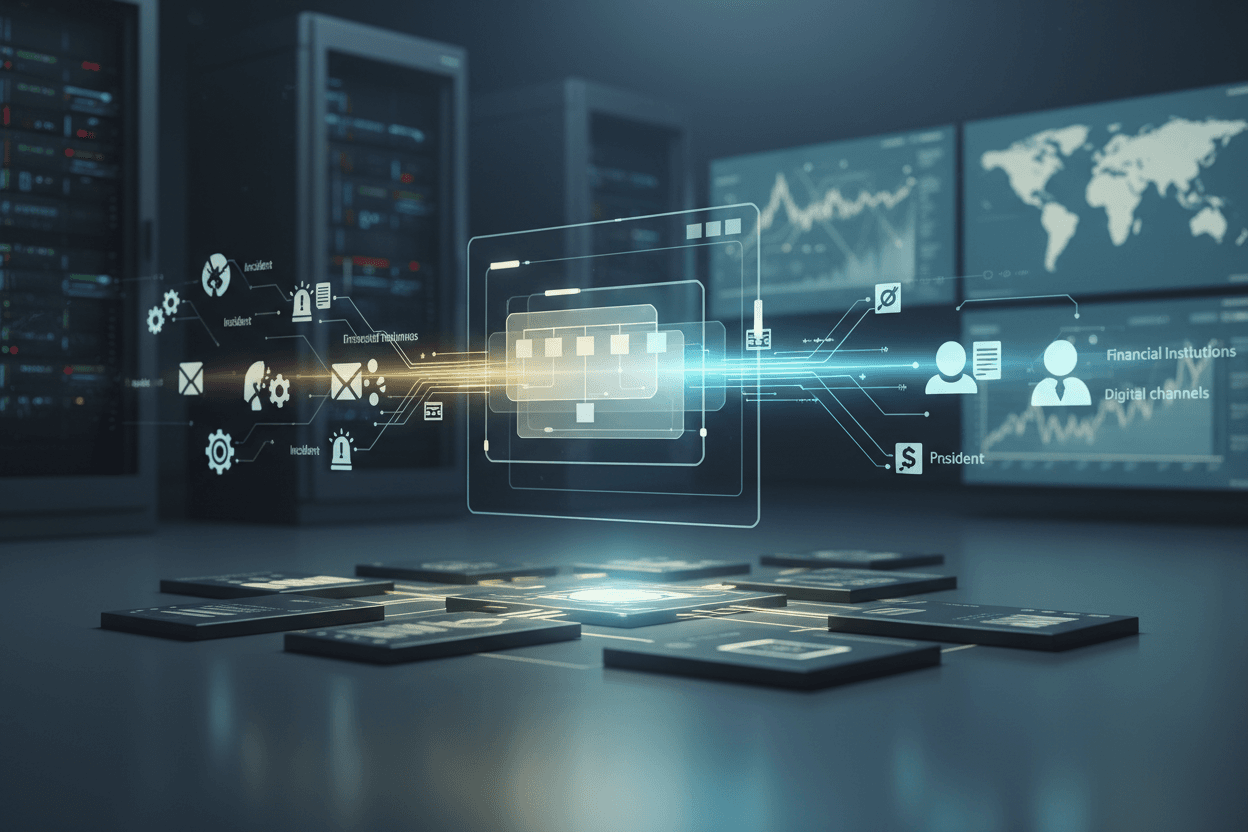Educação
13 de outubro de 2025
OCDE, Brasil e os rumos da educação técnica: convergências e dicotomias
Criatividade é fundamental para equilibrar padrões globais e realidades locais

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) surgiu no pós-guerra como fórum internacional para alinhar políticas de reconstrução e desenvolvimento entre países industrializados. Seu objetivo institucional sempre foi formular políticas baseadas em evidências, comparáveis internacionalmente e ajustadas a padrões de eficiência e competitividade. No campo da educação, esse ethos se traduziu, a partir dos anos 1990, em diretrizes para a Educação Vocacional e Técnica (VET), em consonância com os desafios do mercado global de trabalho.
A OCDE defende sete eixos para a VET:
1. Relevância para o mercado de trabalho;
2. Flexibilidade e aprendizagem ao longo da vida;
3. Articulação com a educação geral e superior;
4. Formação baseada no trabalho;
5. Qualidade e governança;
6. Inclusão e equidade;
7. Competências para o século XXI.
Esses objetivos buscam preparar cidadãos capazes de “aprender a aprender”, mas, ao enfatizar a empregabilidade, carregam o risco de relegar dimensões culturais, lembra Goodson (2013).
No Brasil, a trajetória da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) revela forte diálogo com essas diretrizes. O decreto nº 2.208/1997 estabeleceu a separação entre ensino médio e técnico, reforçando o viés de empregabilidade imediata, em sintonia com o pragmatismo da OCDE. Foi revogado pelo decreto nº 5.154/2004, que flexibilizou essa lógica ao reintroduzir a possibilidade de integração entre formação geral e técnica. Na prática, isso evita a canalização precoce para rotas técnicas ou ocupacionais que podem fragmentar percursos e definir biografias.
A partir de 2007, programas como Brasil Profissionalizado e a expansão dos Institutos Federais evidenciaram a tentativa de estruturar a EPT em escala nacional, criando o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que traduz em linguagem brasileira a demanda por padrões internacionais de qualidade e transparência. O Plano Nacional de Educação (2014–2024), em sua Meta 11, buscou expandir o Ensino Médio integrado à educação profissional, em consonância com diretrizes internacionais. Mais recentemente, a lei nº 14.645/2023 instituiu a formulação da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica(PNEPT), consolidada pelo decreto nº 12.603/2025, que criou o SINAEPT(Sistema Nacional de Avaliação da EPT). A agenda de governança, qualidade e inclusão está assim formalmente instalada.
Se olharmos apenas os marcos normativos, o Brasil parece alinhar-se quase milimetricamente ao roteiro da OCDE: empregabilidade, flexibilidade, articulação, governança, inclusão e qualidade. A convergência é notória e, em termos de regulação, dificilmente se encontrariam lacunas gritantes.
Entretanto, as siglas revelam algo.
A sigla VET (Vocational Education and Training), no âmbito da OCDE, enfatiza a formação voltada à empregabilidade imediata, privilegiando competências técnicas demandadas pelo mercado e reforçando a lógica da transição escola-trabalho. Já no Brasil, a EPT (Educação Profissional e Tecnológica), prevista na LDB e regulamentada pelo decreto nº 5.154/2004, é concebida como uma educação que articula trabalho, ciência, tecnologia e cultura, integrando-se à formação geral e buscando superar a visão meramente instrumental.
Embora haja convergências — como a ênfase na flexibilidade curricular, no aprendizado ao longo da vida e na articulação entre ensino técnico e educação básica —, também se evidenciam diferenças significativas. Enquanto a VET tende a operar numa lógica pragmática e adaptativa ao mercado global, a EPT, em sua formulação normativa, reivindica um caráter formativo integral, em linha com a crítica de autores como Saviani (2007), que defendem a educação como prática social omnilateral, e Frigotto (2010), que questiona a subordinação da escola à racionalidade econômica.
Assim, se a VET traduz uma tradição de políticas orientadas por parâmetros de competitividade e coesão social, a EPT emerge no contexto brasileiro como espaço de disputa: pode tanto reduzir-se a uma formação estritamente instrumental e repetitiva, como adverte Frigotto, quanto constituir um caminho de emancipação crítica através da formação integral, como defende Saviani.
As tensões
O problema se evidencia na prática. A OCDE reconhece, ao menos em seus documentos de referência (Skills Outlook, Education Policy Outlook), a importância de competências críticas e criativas. Mas, como alerta Freire (1996), a educação tende a ser instrumentalizada quando se limita a responder à lógica do mercado.
No Brasil, a assimetria entre norma e realidade é persistente: a retórica de flexibilidade convive com currículos engessados; a promessa de inclusão esbarra em desigualdades regionais profundas; a articulação com a educação superior se transforma, muitas vezes, em funil social, onde apenas alguns conseguem prosseguir nos estudos.
Mantoan (2015) lembra que inclusão não é só acesso, mas reorganização estrutural. A promessa de equidade no Brasil muitas vezes se reduz a vagas sem suporte, caindo em formalismo.
Outro ponto de tensão é a ênfase em work-based learning. Em países europeus, até 45% dos estudantes de VET têm forte prática em empresas, conforme dados do relatório Spotlight on Vocational Education and Training, da OCDE (2023). No Brasil, os estágios são frágeis e precarizados, formando jovens que executam tarefas sem compreender seu pleno sentido.
Aqui entra o ponto central da análise. A OCDE propõe uma formação “future-ready”, flexível e criativa. O Brasil, em sua legislação recente, ecoa esse discurso. Contudo, na realidade concreta, a EPT se vê submetida ao pragmatismo: formar rapidamente técnicos para setores dominantes da economia local. Trata-se de uma lógica eficiente para absorção imediata de mão de obra, mas que, como aponta Bourdieu (1998), reforça a reprodução social: filhos de mineiros continuam mineiros, filhos de agricultores continuam agricultores, ainda que mais bem treinados e talvez com remunerações melhores.
É nesse ponto que propostas alternativas, como as “trilhas paralelas” de formação humanística e empreendedora, ganham relevância. Papert (1980) já defendia que a criatividade surge em ambientes de experimentação; Resnick (2017) reforça que projetos, paixão, pares e pensar brincando, os 4Ps, são centrais para a aprendizagem significativa. Ao integrar filosofia, arte e empreendedorismo à formação técnica, o Brasil poderia não apenas atender às diretrizes da OCDE, mas também ressignificá-las. Em vez de copiar modelos externos, criar uma EPT verdadeiramente inclusiva e emancipadora, na qual o estudante aprende tanto a executar tarefas técnicas quanto a refletir criticamente sobre seu sentido — e a imaginar alternativas possíveis.
Arte
É nesse horizonte que a arte como criatividade aplicada ganha centralidade. Não se trata de educação artística no sentido tradicional — colar, pintar etc. —, mas da arte que estimula o cérebro a reinterpretar o manual, a aprender a aprender de fato. A arte é o diferencial entre cópia e original, reprodução e criação.
A arte habilita o pensamento a refletir, propor e inovar; seria natural que ocupasse espaço central nos currículos. No entanto, permanece relegada a poucas aulas semanais, formação docente fragmentada e desvalorização da disciplina, resultando em práticas inseguras e muitas vezes burocráticas ou recreativas.
A questão é que a criatividade é também um fator de empregabilidade de longo prazo, habilidade totalmente conectada ao “future-ready”. A IA, por exemplo, é um espelho da capacidade do usuário e seu desempenho será tanto melhor quanto mais poderosos forem os recursos mentais de seu utilizador. Nesse contexto, a arte do diálogo torna-se fundamental para profissões do futuro, uma espécie de “nova linguagem computacional”, uma vez que os prompts precisam ser formulados e manejados com objetividade, clareza e originalidade para atingir os fins.
Caminhos próprios
O Brasil está formalmente alinhado às diretrizes da OCDE para a educação técnica, conforme aponta a análise. O histórico legislativo ratifica: empregabilidade, flexibilidade, articulação, inclusão, governança e competências do século XXI estão no papel. Contudo, a implementação revela uma dicotomia: prevalece a dimensão instrumental (formar mão de obra), enquanto a dimensão emancipatória (formar cidadãos críticos) permanece periférica.
O desafio brasileiro é duplo:
1. Não rejeitar os parâmetros internacionais, mas reinterpretá-los à luz de seus aspectos sociais, culturais e históricos;
2. Evitar o aporte acrítico de modelos externos, muitas vezes aplicados por consultores sem mediação com a realidade brasileira.
Justamente nesse segundo ponto reside uma nova tensão. Consultores estrangeiros atuam em órgãos públicos pouco familiarizados com a língua e a cultura brasileiras. Sob a retórica de cooperação, sua atuação efetivamente reduz-se à implementação de políticas externas, após o que retornam para seus países levando consigo indicadores formais de cumprimento.
Como lembra Freire (1996), educação é prática de liberdade, não só adaptação. Cabe ao Brasil avaliar metas universais e criar mediações locais que preservem a singularidade dos estudantes.
É nesse espaço de tensão — entre padrões globais e realidades locais — que se decide se a educação técnica brasileira será apenas funcional ou verdadeiramente emancipadora. Criatividade será fundamental.
Quem publicou esta coluna
Roberto Munhoz