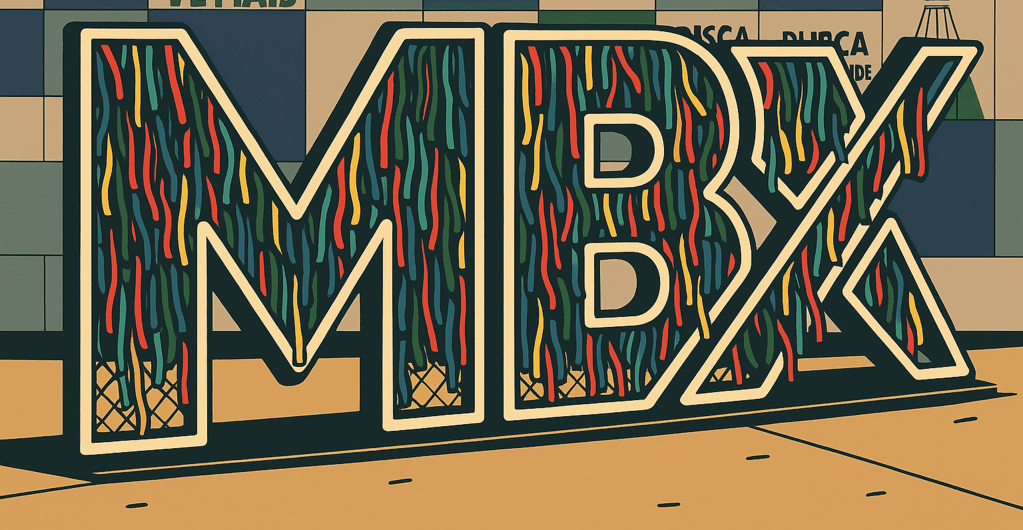11 de novembro de 2025
O novo marco da EaD: entre a presença e a inclusão
Em vez de aprimorar as plataformas, norma tende a direcionar recursos para estruturas e serviços voltados à presença corporal

O decreto nº 12.456/2025, assinado em maio deste ano, não cria uma nova política de educação à distância (EaD), mas redefine as condições de oferta dos cursos de graduação no Brasil. Em conjunto com a portaria 378/2025, do MEC, estabelece três formatos oficiais — presencial, semipresencial e à distância —, delimitando percentuais mínimos e máximos de atividades presenciais síncronas e assíncronas e distinguindo, entre as áreas do conhecimento, quais cursos devem adotar maior carga presencial, quais permanecem restritos ao formato exclusivamente presencial e quais podem manter estrutura essencialmente digital.
O objetivo declarado é reforçar a qualidade e a credibilidade da EaD, após um período de expansão acelerada e desigual. O decreto introduz uma arquitetura regulatória baseada em limites de presencialidade. Para cursos à distância, o artigo 12 define a obrigatoriedade de 10% da carga horária presencial e mais 10% de atividades presenciais ou síncronas mediadas, cabendo às instituições definir o formato das outras 80%. Já a portaria 378/2025 diferencia as exigências para cursos semipresenciais conforme a área:
• Educação e ciências naturais, matemática e estatística: 30% de atividades presenciais e 20% síncronas mediadas;
• Saúde, engenharias, agricultura e veterinária: 40% presenciais e 20% síncronas mediadas.
A medida atinge diretamente as licenciaturas, vedadas na modalidade exclusivamente à distância (art. 9º, II). Já um curso de pedagogia com 3.200 horas passa a exigir 960 horas presenciais e outras 640 presenciais ou síncronas, totalizando 1.600 horas sob controle direto. O formato se torna, assim, semipresencial de alta densidade, com mais demanda por polos, docentes e infraestrutura física — o que representa uma inflexão em relação ao modelo predominantemente digital que vinha sendo consolidado.
Entre a qualidade e a restrição
Sob o argumento de elevar padrões de qualidade, a nova legislação impõe desafios práticos significativos. A ampliação da carga presencial exige investimentos em instalações, equipamentos e reorganização de calendários, afetando principalmente instituições que apostaram em modelos digitais.
O esforço regulatório do MEC responde a distorções reais no setor, como a expansão desordenada de polos e a oferta de cursos com tutoria mínima, que comprometeram a credibilidade da educação à distância no país. Esse controle é essencial para conter práticas mercantilistas e assegurar padrões mínimos de qualidade. Contudo, ainda que a intenção seja legítima, o modelo proposto tende a restringir a flexibilidade — um dos pilares da EaD. É necessário distinguir o controle que garante a qualidade da limitação que inibe a inovação, preservando experiências públicas e privadas que já demonstraram eficácia formativa.
Entre as públicas, há experiências relevantes que demonstram a possibilidade de conciliar rigor e inovação tecnológica, como a Universidade Aberta do Brasil (UAB), a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Essas instituições estruturaram programas baseados em materiais autorais, tutoria qualificada e acompanhamento sistemático, mostrando que é possível garantir qualidade sem abdicar da mediação tecnológica.
A dimensão inclusiva é expressiva: a UAB atua em todo o território através de parcerias com universidades federais; a Univesp alcança mais de 380 municípios paulistas e cerca de 80 mil estudantes. A UFRGS e a UFSCar são exemplos de iniciativas semelhantes que contemplam parcelas vulneráveis da população — estudantes periféricos, rurais ou trabalhadores —, para quem a EaD pode representar a única possibilidade real de acesso ao ensino superior.
Inclusão
Surge, assim, o dilema: como incluir e formar com excelência? Enquanto a sociedade busca formar bons profissionais, o Estado assume também o papel de corrigir desigualdades históricas. A EaD expressa essa ambiguidade: qualidade e inclusão são dimensões interdependentes — a primeira se realiza pela segunda, e ambas se sustentam no equilíbrio entre flexibilidade e rigor pedagógico. Quando bem estruturada, ela amplia o acesso sem comprometer a formação; submetida a exigências rígidas de presencialidade, acaba se tornando barreira social.
Alguns estudos reforçam esse entendimento. Lomellini, Lowenthal, Snelson e Trespalacios (2025), em ampla revisão sobre aprendizagem on-line acessível e inclusiva (Journal of Computing in Higher Education, v. 37, n. 3), mostram que a EaD tem alto potencial de inclusão, sobretudo para pessoas com deficiência ou restrições de mobilidade, desde que sustentada por infraestrutura, suporte docente e design instrucional adequados.
Na mesma linha, Gijón, Fernández-Bonilla, Ruiz-Rua e Martínez-de-Ibarreta (2024), em pesquisa apresentada no 24th ITS Biennial Conference(Seul), analisam a educação on-line como vetor de equidade. Concluem que, embora amplie o acesso de estudantes rurais e trabalhadores, a desigualdade tecnológica ainda é o obstáculo central.
Silva e Álvarez (2023), na Revista de Educación Superior del IESALC-UNESCO, observam que as modalidades virtuais na pós-graduação são estratégias de inclusão em regiões de baixa cobertura presencial. No contexto brasileiro, Veloso e Mill, em Educação a distância e inclusão: uma análise sob a perspectiva docente(2019), identificam que, embora a EaD seja inclusiva, persistem fragilidades estruturais que limitam sua efetividade como instrumento de democratização. Os autores destacam que deficiências em infraestrutura, tutoria e conectividade ainda comprometem a consolidação de um modelo de educação à distância verdadeiramente equitativo no país.
Essas pesquisas convergem em um ponto essencial: o desafio da EaD não reside em seu formato digital, mas em como ele é implementado. Quando a regulação se apoia em percentuais rígidos de presencialidade, desconsiderando a diversidade das condições estudantis — de conectividade, deslocamento, jornada de trabalho —, acaba por restringir a flexibilidade que sustenta a inclusão e redireciona investimentos estruturais.
A presença de sentido
O debate sobre EaD poderia ser menos sobre distância e mais sobre presença de sentido: a presença do professor no acompanhamento, da instituição na garantia de qualidade e do estudante em sua trajetória autônoma. Reduzir a educação à materialidade da sala de aula é ignorar que a cultura e o conhecimento já atravessam fronteiras digitais há décadas. O desafio não é conter a tecnologia, mas orientá-la para o humano.
À luz dessas reflexões, emerge uma questão: se o decreto associa qualidade à presença física, seria coerente aplicar o mesmo princípio a outras modalidades EaD? Se a presença é requisito de qualidade, cursos de especialização e formações continuadas estariam, por definição, em posição inferior — o que é conceitualmente frágil. A qualidade de um curso não reside no deslocamento, mas na densidade da mediação pedagógica e na autenticidade da aprendizagem.
Quando a norma associa qualidade predominantemente à presença física, incorre no risco de confundir meio e finalidade, estabelecendo hierarquias entre modalidades em vez de qualificá-las pela função que deveriam cumprir. Nesse movimento, pode inadvertidamente inibir o potencial de inovação pedagógica em um ecossistema educacional híbrido e digital em expansão.
Os espaços virtuais da aprendizagem
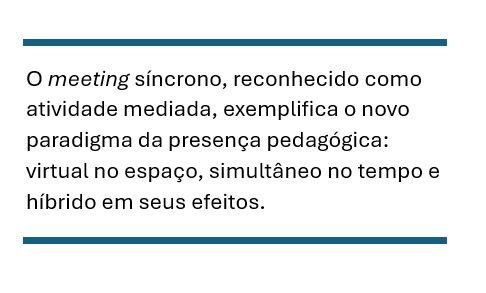
O meeting síncrono, reconhecido como atividade mediada, exemplifica o novo paradigma da presença pedagógica: virtual no espaço, simultâneo no tempo e híbrido em seus efeitos. O vínculo substitui a mera localização física, preservando valor formativo mesmo quando em acesso assíncrono, quando é possível pausar a aula e revisar o conteúdo ponto a ponto. Simulações e modelagens tridimensionais ampliam o potencial cognitivo da EaD, criando laboratórios virtuais que aproximam o estudante da prática. Mais que substituir o real, tais recursos o expandem, quando orientados por intencionalidade pedagógica e rigor metodológico.
Embora o decreto 12.456/2025 reconheça as atividades síncronas mediadas, seu eixo conceitual ainda se apoia na presença física como critério de qualidade. A norma admite o híbrido, mas não o equipara ao presencial, mantendo hierarquia entre espaço e mediação. Trata-se de um avanço parcial: reconhece a importância da interação, mas ainda não incorpora plenamente a noção contemporânea de presença pedagógica, exercida também de forma digital e relacional.
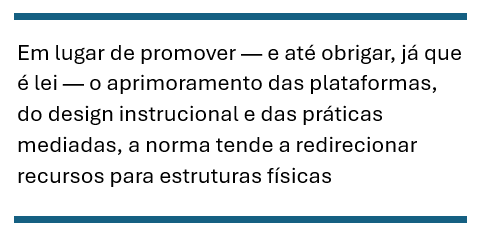
Ao vincular qualidade à presencialidade, o decreto desestimula, ainda que indiretamente, o investimento estratégico em soluções tecnológicas e na consolidação de ecossistemas digitais robustos, capazes de garantir acompanhamento formativo e inclusão real. Em lugar de promover — e até obrigar, já que é lei — o aprimoramento das plataformas, do design instrucional e das práticas mediadas, a norma tende a redirecionar recursos para estruturas físicas: prédios, refeitórios, segurança, transporte e demais instalações e serviços voltados à presença corporal.
Seria necessário, portanto, um marco regulatório que se aprofundasse também na arquitetura pedagógica dos cursos, em vez de se concentrar predominantemente em seu formato material, e que reconhecesse nessa arquitetura uma via contemporânea para conciliar flexibilidade, qualidade e o princípio da educação para todos, conforme preconiza a lei 9.394/1996.
O novo marco representa um esforço de reequilíbrio. A tensão não está entre inovadores e reguladores, mas entre autonomia institucional e garantia pública de qualidade. O desafio, palavra de ordem neste contexto, é encontrar o ponto em que a regulação protege sem paralisar a inovação. Se o Estado impõe limites desproporcionais, compromete a inclusão que a EaD ajudou a construir — e, nessa retração, corre o risco de inviabilizar avanços socialmente relevantes e desacelerar investimentos tecnológicos; se abdica de supervisão, abre caminho para a precarização.
Entre o monte e o desmonte, há um caminho de reconstrução inteligente: aquele que reconhece a presença como valor, mas não como dogma; e a distância como método, mas não como ausência.
Quem publicou esta coluna
Roberto Munhoz
Roberto Munhoz é roteirista, educador e artista gráfico com 35 anos de experiência, 20 deles na Turma da Mônica (Estúdio Mauricio de Sousa). Também colaborou em obras como Menino Maluquinho, de Ziraldo, e Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato. Participa de ações formativas e culturais de promoção à leitura e valorização das linguagens visuais como ferramentas educativas. Licenciado em Artes Visuais pela UNIP e pós-graduado em Gestão Escolar pela USP/ESALQ, atua como professor de artes no Ensino Fundamental I e II.