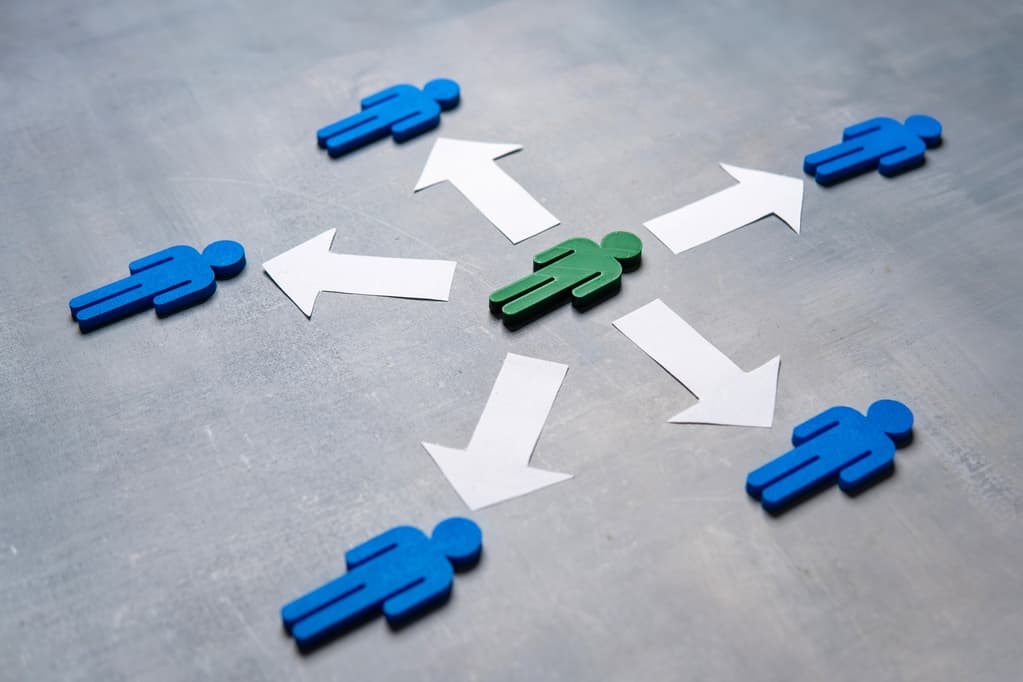Esg
27 de agosto de 2025
Gestão em saúde e hepatites virais no Brasil: políticas e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em perspectiva integrada
DOI: 10.22167/2675-6528-2025023
E&S 2025, 6: e2025023
Josué Souza Gleriano; Carlise Krein; Lucieli Dias Pedreschi Chaves
As hepatites virais (HV) constituem um conjunto de infecções que acometem o fígado, com diferenças quanto à forma de transmissão e evolução clínica. A hepatite A e a E, de via fecal-oral, têm caráter predominantemente agudo; já a B, a C e a D podem apresentar evolução crônica, se associando a cirrose e câncer hepático. A prevenção baseia-se sobretudo na vacinação contra hepatite A e B, enquanto a hepatite C dispõe atualmente de tratamento curativo com antivirais de ação direta (AADs). Nesse contexto, as HV configuram um grave problema de saúde pública global, dada sua evolução clínica silenciosa, que contribui para elevada morbimortalidade e impacto expressivo sobre os sistemas de saúde[1,2]. Assim, torna-se necessário compreender como as políticas brasileiras dialogam com os compromissos internacionais e como o Sistema Único de Saúde (SUS) responde aos desafios persistentes.
Estima-se que mais de 350 milhões de pessoas no mundo vivam com hepatite B ou C crônica, a maioria sem diagnóstico[1]. Esse cenário global também se reflete nas Américas, onde aproximadamente 3,9 milhões apresentam hepatite B e 7,2 milhões, hepatite C, com destaque para a elevada prevalência da hepatite B na região amazônica de Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela. Entretanto, a magnitude dessas infecções ainda é pouco visibilizada, sobretudo pela fragilidade da vigilância em saúde na América Latina e Caribe, evidenciada pelo reduzido número de países que notificam regularmente os casos [2,3].
No Brasil, a situação acompanha essa tendência, sendo que entre 2000 e 2024 foram confirmados 826.292 casos de hepatites virais, com predomínio da hepatite C (41,5%) e da B (36,6%). A gravidade do quadro nacional é reforçada pelo fato de a hepatite C ter sido responsável por 75,3% dos óbitos por HV, seguida da B (22,0%). Apesar da redução recente nas taxas de detecção das hepatites B e C, persistem importantes desafios, como a manutenção de elevadas incidências em algumas capitais e a expressiva desigualdade regional, exemplificada pela concentração de 72,4% dos casos de hepatite D na região Norte e pela predominância da hepatite C no Sudeste[4].
Nesse cenário, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem desempenhado papel fundamental por meio do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais (PNHV), instituído em 2002, que nos últimos anos avançou especialmente em ações de prevenção via vacinação e na publicação de diretrizes voltadas à descentralização do cuidado e à organização da rede de serviços[5]. Esses avanços, impulsionados pelo PNHV, ganharam ainda mais visibilidade no país com a criação da campanha “Julho Amarelo”, instituída pela Lei n.º 13.802/2019 que reforça ações de vigilância, prevenção, diagnóstico e tratamento, ao mesmo tempo em que amplia a conscientização da população e mobiliza os serviços de saúde, consolidando o papel do SUS no enfrentamento das HV como condição crônica de relevância nacional[6].
No que tange as ações de vigilância, no Brasil, é pertinente reconhecer que as diretrizes da Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS)[7] devem ser compreendidas como pilares estruturante no processo de eliminação das HV. A dependência das HV de diagnóstico oportuno e notificação sistemática torna a vigilância em saúde essencial para orientar decisões estratégicas, identificar desigualdades e monitorar avanços [5].
Já no campo da prevenção, destaca-se a oferta das vacinas contra as hepatites A e B. A imunização contra a hepatite B, introduzida no Brasil ainda antes da criação do SUS, representa uma medida fundamental não apenas por prevenir a cronificação e suas complicações, como cirrose e carcinoma hepatocelular, mas também por exercer impacto direto no controle da hepatite D[8,9]. A incorporação da vacina contra a hepatite A ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) representou um avanço significativo, sobretudo em regiões marcadas por condições sanitárias precárias[8]. Contudo, apesar dos progressos alcançados, persistem desigualdades regionais e falhas na homogeneidade da cobertura vacinal, o que aponta para uma necessidade de estratégias específicas voltadas a populações em maior vulnerabilidade, como povos indígenas, ribeirinhos e residentes de áreas de difícil acesso[9].
Em 2010, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu oficialmente as HV como uma ameaça global à saúde pública. Alinhada a esse reconhecimento, a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas a serem alcançadas até 2030, orientando políticas públicas, investimentos e iniciativas voltadas às dimensões social, econômica e ambiental[11]. Nesse marco, o ODS 3, ao contemplar o combate às doenças transmissíveis, acata as HV como um dos agravos à saúde a serem enfrentados na agenda global. Em consonância, a OMS estabeleceu metas ambiciosas para 2030, propondo a redução de 90% das novas infecções e de 65% dos óbitos por HV. Para alcançar esses resultados, prevê-se diagnosticar 90% das pessoas infectadas e assegurar tratamento para, no mínimo, 80% dos casos diagnosticados[12].
A pertinência dos ODS para a saúde, e em particular para o enfrentamento das HV, decorre do fato de integrarem metas específicas relacionadas ao acesso universal a serviços de saúde, à ampliação da cobertura vacinal, ao fortalecimento da vigilância e ao combate a epidemias transmissíveis. Nesse sentido, analisar a relação entre os ODS e o Sistema Único de Saúde (SUS) permite compreender como diretrizes nacionais se alinham a compromissos globais, reforçando a importância da governança, da equidade e da descentralização como estratégias para o alcance das metas de eliminação.
Diante do exposto, torna-se premente refletir e analisar criticamente as estratégias de gestão em saúde pública voltadas ao enfrentamento das HV no Brasil, sobretudo à luz do compromisso internacional com os ODS e da persistência de profundas desigualdades no acesso ao diagnóstico, ao tratamento e ao cuidado integral. Esse quadro reforça a necessidade de compreender os desafios da implementação de políticas públicas, da incorporação de inovações nos serviços e da efetivação de ações intersetoriais e regionalizadas capazes de reduzir iniquidades e ampliar o alcance das intervenções.
Propõe-se, portanto, uma reflexão crítica sobre alternativas que superem barreiras históricas e consolidem respostas mais concretizas do SUS no enfrentamento das HV, tomando como referência os ODS, a integração intersetorial e a inovação nos serviços. Essa análise apoia-se tanto em referenciais teóricos quanto na experiência prática dos autores no exame da gestão do SUS. Cabe destacar que, ao utilizar os ODS como referencial[11] para as estratégias prioritárias da gestão em saúde, é possível transformar metas globais em instrumentos concretos de responsabilização e ação pública, ao avançar na efetivação dos objetivos propostos.
A articulação entre o SUS e ODS exige confirmar diretrizes estruturantes que sustentam a lógica de organização do sistema. Nessa perspectiva, a regionalização e a conformação de Redes de Atenção à Saúde (RAS) permitem alinhar que a universalidade do acesso possa garantir a racionalidade do cuidado em diferentes níveis, condição fundamental para alcançar metas propostas de eliminação. A integralidade, ao contemplar desde ações de promoção e prevenção até reabilitação e cuidados paliativos, amplia a correspondência que o cuidado em saúde seja contínuo e centrado nas necessidades das pessoas[5].
Vale conceber que a equidade, por sua vez, fortalece a relação com as metas de redução das desigualdades ao priorizar populações e territórios em maior vulnerabilidade. O princípio da descentralização e ao financiamento tripartite, é decisivo para traduzir metas globais em políticas sensíveis às diversidades regionais, garantindo que a implementação ocorra de forma capilarizada nos municípios.
Vale pontuar que é na intersecção do planejamento em saúde para a implementação nos municípios deve acontecer via participação social, que materializada em conselhos e conferências de saúde, constitui elemento singular do SUS em diálogo para assegurar governança democrática e parcerias institucionais. Trata-se de convocar aqueles que vivenciam diretamente o agravo nos territórios a participar, em perspectiva legal e legítima, dos espaços de construção do SUS.
Essa articulação entre universalidade, equidade, descentralização, financiamento tripartite e participação social revela que a governança do SUS, ao mesmo tempo em que dialoga com as diversidades regionais, também se ancora em mecanismos democráticos de decisão coletiva que são reforçados no âmbito dos ODS.
O ODS 3 se conecta de maneira estratégica, pois, ao propor o enfrentamento das doenças transmissíveis e reconhecer as HV como problema de saúde pública, reforça que a gestão não deve se limitar a respostas técnicas ou biomédicas, mas assumir compromissos políticos que fortaleçam a vigilância em perspectiva da integralidade do cuidado.
O enfrentamento das HV também demanda reconhecer a influência dos determinantes ambientais e sociais sobre a sua distribuição. O ODS 6, ao propor avalizar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos, está diretamente relacionado à prevenção de formas de transmissão fecal-oral, como no caso da hepatite A e E, cuja ocorrência está fortemente associada à falta de acesso à água potável, à precariedade do saneamento básico e às condições insalubres de moradia. Assim, assegurar o cumprimento desse objetivo global é também fortalecer a capacidade do SUS de reduzir a incidência dessas doenças, uma vez que a melhoria do ambiente e das condições sanitárias constitui medida preventiva tão relevante quanto a vacinação e a vigilância epidemiológica.
A integração entre vigilância epidemiológica e laboratorial, com capacidade de detecção precoce, testagem ampliada e sistemas de informação, permite não apenas mensurar a real carga da doença, mas também avaliar o impacto das políticas de vacinação, tratamento e prevenção. Nesse sentido, o fortalecimento da vigilância em saúde, associado à ampliação da cobertura vacinal, representa uma via indispensável para consolidar o papel do SUS como protagonista no cumprimento das metas de eliminação definidas pela OMS.
É de suma importância reconhecer que a verdadeira ruptura decorre do reconhecimento de que a persistência das HV no território está profundamente enraizada em desigualdades estruturais, o que exige incorporar o ODS 10, que torna a equidade um eixo transversal da gestão em saúde, e não um apêndice retórico dos planos de governo. É preciso ir além da lógica da cobertura e enfrentar as desigualdades que produzem diferentes tempos, acessos e sentidos para o cuidado, pois o sistema de saúde muitas vezes opera sob um princípio aparente de universalidade que, na prática, não considera de forma ampla e adequada as diferenças estruturais e sociais entre sujeitos e territórios[13].
As HV não afetam igualmente os corpos nem os espaços, visto que sua distribuição segue padrões de injustiça social, racial e geográfica. Ignorar essas assimetrias significa manter uma gestão que reforça a invisibilidade das vulnerabilidades, mesmo quando se ampliam as ofertas de testagem ou tratamento[14,15].
De modo complementar, o ODS 11, que trata da construção de cidades e comunidades sustentáveis, dialoga com a realidade das HV ao expor as desigualdades territoriais que afetam o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. A forma como os espaços urbanos e rurais são planejados e habitados reflete padrões da própria injustiça social, racial e geográfica, perpetuando a vulnerabilidade de determinados grupos populacionais. Territórios com pouca infraestrutura urbana, ausência de serviços de saúde, saneamento precário e baixa visibilidade política são os mais impactados pelas dificuldades de acesso ao cuidado.
Na condição de doenças socialmente determinadas, as HV demandam da gestão em saúde uma abordagem ampliada, capaz de integrar os determinantes sociais, econômicos e políticos que sustentam sua persistência. Nesse sentido, os ODS configuram-se como uma referência estratégica, oferecendo uma estrutura de governança pactuada que pode orientar o planejamento em saúde de forma mais integrada, equitativa e intersetorial.
Retoma-se que o ODS 1, ao propor a erradicação da pobreza, dialoga diretamente no contexto social em que se inserem os grupos prioritários das HV, sobretudo em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, onde a desigualdade estrutural se manifesta de forma mais contundente. Nessas realidades, a pobreza não apenas limita o acesso a alimentação adequada, educação, saneamento e serviços de saúde, mas também perpetua ciclos de vulnerabilidade que comprometem o diagnóstico precoce, o início oportuno do tratamento e a adesão às terapias disponíveis. Mesmo em países como o Brasil, que contam com sistema público universal como o SUS, a persistência de desigualdades sociais e territoriais revela que a eliminação das HV não pode ser alcançada sem enfrentar a pobreza como determinante estrutural do adoecimento.
O SUS, ao estruturar a Atenção Primária à Saúde (APS) em bases territoriais e comunitárias e em atuação interdisciplinar, fortalece o vínculo estabelecido com as comunidades, o que permite ampliar a cobertura vacinal, intensificar as ações de prevenção e promoção da saúde, garantir a testagem oportuna e acompanhar, de forma longitudinal, as pessoas em tratamento. A presença da APS no cotidiano dos territórios possibilita identificar barreiras sociais e culturais ao cuidado, articulando-se com outras políticas públicas para enfrentar os determinantes sociais que sustentam a persistência das HV.
Nesse arranjo organizacional do modelo de atenção à saúde no SUS, o papel do enfermeiro torna-se estratégico ao atuar como elo entre o cuidado direto aos usuários e os processos decisórios na APS, na vigilância em saúde e na coordenação das RAS. Esse profissional contribui para consolidar a gestão de programas voltados ao enfrentamento das HV[16].
O enfermeiro ao assumir a gestão local das unidades básicas e se fazer presente em Serviços de Atendimento Especializado (SAE), o enfermeiro exerce funções que vão da organização do processo de trabalho e identificação de lacunas nos fluxos assistenciais à articulação intersetorial e à mediação entre diferentes níveis de atenção. Essa posição o insere de maneira central na operacionalização de diretrizes como a integralidade, a regionalização e a equidade, reforçando seu papel como ator-chave no fortalecimento das políticas públicas[16].
As políticas públicas devem operar com base no mapeamento das vulnerabilidades e na escuta dos sujeitos e coletivos marginalizados, e não apenas no cumprimento de metas quantitativas. Para isso, o ODS 17 emerge como condição de viabilidade, ao deixar explícito que, sem governança colaborativa, financiamento sustentável, participação social qualificada e inovação conectada à realidade dos territórios, não haverá eliminação, apenas contenção intermitente.
Ao considerar que o enfrentamento das HV deve ser fortalecido pela governança democrática, pelo aprimoramento da vigilância em saúde e pela ampliação da participação social, torna-se evidente a relevância do ODS 16 como marco orientador. No contexto do SUS, a incorporação dessa perspectiva significa garantir que políticas e recursos destinados às HV sejam geridos com transparência, efetividade e equidade, de modo a alcançar populações marginalizadas que permanecem à margem das estatísticas oficiais e das ações de saúde. Assim, o ODS 16 não deve ser visto apenas como um princípio abstrato de justiça social, mas como uma estrutura concreta de fortalecimento institucional e de garantia de direitos, condição indispensável para avançar na eliminação das HV como problema de saúde pública.
Ao aprofundar a análise sobre a relação entre os ODS e a governança do SUS, evidencia-se que a gestão em saúde deve ser concebida não apenas como um processo técnico-administrativo, mas como prática ética e política orientada pela transformação das estruturas sociais, institucionais e territoriais que produzem e reproduzem iniquidades. Nesse sentido, o enfrentamento das HV ilustra de forma contundente os limites das respostas centradas em metas imediatistas ou em ações fragmentadas, uma vez que sua persistência e distribuição desigual revelam falhas históricas na promoção da equidade e na capacidade estatal de garantir cuidado integral às populações sistematicamente invisibilizadas, como indígenas, pessoas privadas de liberdade, usuários de drogas, pessoas em situação de rua, ribeirinhos, migrantes e outros grupos em maior vulnerabilidade[12,13,17].
Um ponto central refere-se à capacidade da gestão em saúde de implementar a equidade como prática estruturante na tomada de decisão. Isso exige mapear e enfrentar as desigualdades no acesso ao diagnóstico, tratamento e prevenção das HV[18]. A análise da distribuição territorial dos serviços e das taxas de detecção evidencia disparidades profundas entre regiões e grupos populacionais, mas é na persistência de barreiras ao acesso em territórios periféricos e populações vulnerabilizadas que se demonstra que a equidade frequentemente permanece no campo do discurso institucional[17,19]. A produção e o uso de dados desagregados por raça/cor, faixa etária, escolaridade e território são indispensáveis para orientar políticas que reduzam iniquidades e promovam justiça social.
Eliminar as HV não é apenas uma tarefa sanitária ou tecnológica, mas um imperativo civilizatório, que exige confrontar a lógica da indiferença institucional e da negligência seletiva. Isso implica reconhecer que o acesso ao diagnóstico, tratamento e cuidado integral não pode ser determinado pelo código de endereçamento postal (CEP) – inclusive inexistente nos territórios e comunidades informais e mais marginalizados – pela cor da pele, pelo nível de escolaridade ou pela pertença a grupos estigmatizados. Assim, reinventar as estratégias da gestão em saúde requer ampliar os espaços de escuta e participação social, fortalecer a intersetorialidade, valorizar os saberes dos territórios e adotar uma postura ativa frente às iniquidades. Só então será possível considerar a eliminação das HV como uma política de justiça e não apenas como estatística de impacto.
Diante da complexidade do enfrentamento das HV no Brasil, sobretudo à luz dos ODS e dos princípios que estruturam o SUS, torna-se necessário formular perguntas estratégicas que tensionem os limites do modelo atual de gestão e provoquem uma reflexão crítica sobre seus rumos. Nesse sentido, impõe-se a indagação central: existe, de fato, um compromisso político e institucional efetivo com a eliminação das HV ou o que predomina é a reprodução de pactuações formais, descoladas da realidade concreta dos territórios e das populações mais vulneráveis? A gestão pública tem conseguido transformar a equidade em prática concreta ou permanece presa à lógica da cobertura superficial? Como garantir que a inovação e a intersetorialidade previstas nos ODS se materializem nos territórios onde o adoecimento é cotidiano e invisível?
As respostas, no entanto, não são simples nem prontas. Exigem esforço crítico sobre os caminhos já percorridos, pois existem evidências construídas ao longo de mais de 35 anos de consolidação do SUS e mais de 20 anos de existência do PNHV, que podem e devem ser analisadas. É nesse acúmulo histórico, institucional e territorial que residem pistas importantes para a construção de alternativas voltadas à eliminação das HV no país[5].
Ao propor esta análise crítica sobre o compromisso do Brasil com a eliminação das HV, não se objetiva estabelecer um formato único de referência de avaliação, mas oferecer um roteiro reflexivo que permita identificar avanços, lacunas e possibilidades concretas de transformação na gestão pública voltada à eliminação das HV.
É fundamental examinar se os planos estaduais e municipais de saúde incorporam efetivamente as diretrizes propostas pela Agenda 2030, sobretudo no que se refere ao ODS 3. A presença de metas específicas, alocação orçamentária compatível e mecanismos de monitoramento dos indicadores revelam se a pactuação política se traduz em ação concreta nos diferentes territórios. Embora o país disponha de protocolos clínicos e medicamentos gratuitos pelo SUS, a eliminação das HV exige mais do que insumos, pois ainda não alcançou plenamente as pessoas que necessitam de diagnóstico; é necessária a priorização institucional sustentada e mobilização dos diferentes níveis de gestão[5].
É preciso considerar se e como as promessas de inovação tecnológica e intersetorialidade estão efetivamente incorporadas à gestão da atenção às HV. A existência de projetos intersetoriais que integrem saúde, assistência social, educação, justiça, organizações da sociedade civil e movimentos sociais pode indicar avanços rumo a uma resposta mais abrangente e sustentável. Da mesma forma, a adoção de tecnologias como testagem rápida, teleatendimento, prontuário eletrônico e fluxos regionais de cuidado deve ser analisada quanto à capilaridade nos territórios mais vulneráveis para impedir a concentração de inovações apenas nos grandes centros urbanos[20]. Também é fundamental avaliar o grau de participação social nas decisões, especialmente nos espaços de controle social e nos comitês gestores das políticas de HV, como indicador de democratização da gestão e da corresponsabilização na resposta ao problema.
No percurso para a eliminação das HV, embora o SUS disponha de diretrizes que apontam para integralidade, intersetorialidade e vigilância, persistem entraves institucionais que dificultam a implementação de estratégias antecipatórias. As estruturas que sustentam o modelo atual de gestão em saúde permanecem fortemente marcadas por práticas fragmentadas, centradas na resposta ao adoecimento já instalado[21].
É pertinente analisar se o modelo de gestão em saúde consegue atuar sobre os determinantes sociais da saúde. As desigualdades regionais na atenção às HV revelam a insuficiência de um modelo que ainda responde mais à lógica da oferta de serviços do que à análise das necessidades reais dos territórios, caracterizada não apenas por falhas de cobertura, mas também pela ausência de planejamento territorializado e de mecanismos eficazes de coordenação interfederativa[17].
Trata-se, portanto, de questionar propositalmente as condições reais da inovação em saúde: como garantir que a inovação tecnológica esteja efetivamente conectada à realidade dos territórios e das populações mais atingidas pelas HV? Essa indagação exige ir além da adoção de tecnologias de forma verticalizada ou descolada do contexto socioepidemiológico. A eficácia da testagem rápida, da telemedicina ou de plataformas digitais depende da incorporação dessas tecnologias em estratégias integradas, sensíveis à diversidade territorial e cultural[11,16].
No âmbito da função da gestão, é necessário que as decisões sobre inovação estejam ancoradas em diagnósticos situacionais e pactuações regionais, com alocação equitativa de recursos e envolvimento direto dos gestores locais. Do ponto de vista da prática baseada em evidências, as inovações devem ser selecionadas e avaliadas com base em estudos que demonstrem impacto real sobre o acesso, o tempo de diagnóstico e a adesão ao tratamento, especialmente entre populações vulnerabilizadas. Além disso, a gestão deve implementar mecanismos de monitoramento contínuo e escuta dos usuários e trabalhadores, de modo que as tecnologias se adaptem às realidades dos serviços e dos territórios. Sem esse alinhamento entre inovação, evidência científica e contexto, arrisca-se reforçar as desigualdades e até a exclusão sob o discurso da modernização.
O contexto da eliminação das HV requer que a gestão em saúde supere o enfoque tradicional centrado em números absolutos de testagens ou tratamentos realizados e avance para indicadores que expressem equidade no acesso, como tempo entre diagnóstico e início do tratamento, alcance das populações vulnerabilizadas, resolubilidade na atenção primária e participação social nos processos decisórios[18]. A partir dessa reflexão, impõe-se uma provocação adicional: a possibilidade de construir esses indicadores com base nas evidências produzidas ao longo de mais de duas décadas de políticas de PNHV no Brasil. Além disso, a monitorização ética exige métricas que revelem não apenas quem foi atendido, mas quem foi sistematicamente deixado de fora, ou seja, que coloquem sob escrutínio os vazios assistenciais e as populações invisibilizadas. O desafio consiste em transformar a avaliação de desempenho em instrumento de justiça sanitária e não apenas de produtividade técnica.
À medida que as discussões sobre inovação, equidade e resolutividade se aprofundam, é fundamental reconhecer que os limites da gestão em saúde não são apenas técnicos ou operacionais, mas também éticos e políticos. A persistência de desigualdades no enfrentamento das HV revela que, para além das metas e indicadores, existem vidas que permanecem negligenciadas, sobretudo aquelas situadas nas margens do sistema, geográficas, sociais e simbólicas. A invisibilidade das pessoas que não acessam o diagnóstico, que não chegam ao tratamento ou sequer são consideradas nos planejamentos locais realça uma gestão ainda afastada do princípio fundamental do SUS: a saúde como direito universal e dever do Estado.
O lançamento do Programa Brasil Saudável: Unir para Cuidar, por meio do Decreto n.º 11.908/2024[22], representa uma oportunidade histórica para reposicionar o enfrentamento das HV em uma agenda intersetorial de justiça social. Ao reconhecer as HV como doenças socialmente determinadas, o programa rompe com a tradição fragmentada que restringe sua abordagem ao campo biomédico e sanitário e amplia o escopo da resposta para incluir determinantes estruturais como pobreza, fome, acesso desigual à infraestrutura e negação de direitos. No entanto, essa virada conceitual requer reconfiguração radical da gestão em saúde, que deve substituir a lógica da tutela verticalizada por modelos de cogestão territorializados, ancorados em evidências, escuta social e pactuações efetivas entre os diversos setores envolvidos.
Nesse sentido, as diretrizes do Programa Brasil Saudável orientam uma mudança conceitual na estrutura do modelo de gestão, que deve deixar a centralidade em metas e protocolos para adotar um modelo ético-político, capaz de articular políticas públicas sob a lógica da justiça redistributiva e da equidade territorial. A ênfase no combate à fome, à pobreza e na ampliação da proteção social não pode ser dissociada da urgência em superar a invisibilidade das populações atingidas pelas HV, cujas vozes são raramente consideradas nos processos decisórios. Da mesma forma, o incentivo à ciência, tecnologia e inovação precisa estar a serviço da vida dos sujeitos nos territórios e não apenas da produção de dados ou de soluções de mercado. A intersetorialidade proposta não pode se resumir a protocolos de cooperação entre ministérios; deve criar estruturas permanentes de corresponsabilização, financiamento cruzado e gestão participativa, especialmente nos territórios que concentram a maior carga de adoecimento evitável.
Apesar da relevância das desigualdades apontadas ao longo do texto, cabe destacar a carência de quantificação suficiente sobre essas disparidades, no âmbito nacional de estudos comparativos robustos entre regiões de saúde especificamente voltados às HV. Essa lacuna evidencia a necessidade de investimentos em pesquisas que articulem dados epidemiológicos, indicadores de acesso e características sociodemográficas de forma regionalizada, permitindo avaliar de maneira mais precisa como a estrutura federativa e a organização do SUS influenciam a resposta ao enfrentamento das HV no Brasil[18].
Eliminar as HV, nesse novo horizonte, não constitui apenas uma questão de saúde, mas um teste de coerência política: o Estado está disposto a enfrentar as desigualdades que se produzem e se reproduzem em seus próprios arranjos institucionais?
Nesse sentido, é necessário promover uma reflexão mais profunda sobre os compromissos que orientam a ação pública em saúde. No âmbito da ética, do poder e da responsabilização, permanecem questões centrais: quem se responsabiliza pelas pessoas que morrem sem diagnóstico ou sem acesso ao tratamento, mesmo com protocolos e medicamentos disponíveis no SUS? Como transformar a gestão em saúde em prática de justiça social e não apenas em gerenciamento técnico de doenças? O sistema de saúde está disposto a inverter prioridades e investir nas margens, onde a hepatite ainda representa invisibilidade? Essas questões são imprescindíveis para tensionar o papel da gestão pública e reorientá-la para práticas comprometidas com dignidade, escuta e reparação histórica das iniquidades em saúde.
Diante do exposto, é necessário reconhecer atores sociais capazes de convocar gestores, trabalhadores do SUS, pesquisadores e sociedade civil a assumir papel ativo na construção de respostas integradas, inovadoras e comprometidas com a eliminação das HV. Cabe ressaltar que as HV não se resumem ao cumprimento de metas internacionais, mas envolvem a garantia do direito à vida digna, ao cuidado oportuno e à reparação das desigualdades históricas que atravessam o acesso à saúde no Brasil. Para tanto, é preciso fortalecer a gestão pública com base em evidências, pactuar responsabilidades nos diferentes níveis do sistema, assegurar financiamento adequado e fomentar processos participativos que concedam voz aos territórios e às populações vulnerabilizadas.
Reafirmar o compromisso com a eliminação das HV é, portanto, reafirmar o SUS como projeto civilizatório, um sistema que não apenas cuida, mas transforma realidades, promove equidade e reconhece o cuidado como expressão de um pacto ético, técnico e político com a vida e com o desenvolvimento econômico do país.,
REFERÊNCIAS
[1] Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). 2020. Dia Mundial da Hepatite 2020: Um Futuro Livre de Hepatite. OPAS/OMS: Washington, EUA. Disponível em: https://www.paho.org/pt/noticias/28-7-2020-dia-mundial-da-hepatite-2020-um-futuro-livre-hepatite. Acesso em: 28 juln. 2025.
[2] Organização Mundial da Saúde (OMS). 2019. Hepatite B, notas descritivas. OMS: Genebra. Disponível em: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hepatite-b. Acesso em: 8 jul. 2025.
[3] Gomez R.A.Z.,; Sornoza, J.L.Q.. Perfil hepático y factores de riesgo para hepatitis B en adultos de América latina. [Trabalho de Conclusão de Curso]. Universidad Estatal Del Sur De Manabí, Manabí, Equador. : Universidad Estatal Del Sur De Manabí, Equador; 2023. 72p. [citado 2025 jun 22]. Disponível em: https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/4945/1/Quimis%20Sornoza%20Jos%c3%a9%20Leonardo%20-%20Zavala%20G%c3%b3mez%20Roberto%20Alejandro.pdf. Acesso em: 22 jun. 2025.
[4] Ministério da Saúde (BR). Brasil. 2025. Boletim Epidemiológico – Hepatites Virais 2025. Brasília, DF. Ministério da Saúde; 2025 [citado 2025 jun 22]. Disponível em: file:///C:/Users/saude/Downloads/Boletim%20Epidemiol%C3%B3gico%20de%20Hepatites%20Virais.pdf. Acesso em: 22 jun. 2025.
[5] Gleriano, J.S.;, Chaves, L.D.P.;, Pantoja, V.J.C.;, Caminada, S. 2023. 20 Anos do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais: Processo Histórico e Contribuições para a Gestão. Revista de Administração. Pública. e Gest.ão Social. 2023; 15(3).
[6] Ministério da Saúde Brasil (BR). 2019. Lei n.º 13.802, de 10 de janeiro de 2019. Institui o Julho Amarelo, a ser realizado a cada ano, em todo o território nacional, no mês de julho, quando serão efetivadas ações relacionadas à luta contra as hepatites virais. Ministério da Saúde, Brasília, DF. [citado 2025 Jun 28]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13802.htm. Acesso em: 28 jun. 2025.
[7] Ministério da Saúde Brasil (BR). 2018. Resolução n.º 588, de 13 de agosto de 2018. Dispõe sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde, Brasília, DF. [citado 2025 Ago 22]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2018/res0588_13_08_2018.html. Acesso em: 22 ago. 2025.
[8] Moura, W.E.A.; Caetano, K.A.A.; Lima, J.O.R.; Campos, L.R.; Silva, G.R.C.; Moraes, J.C.; Teixeira, M.G.L.C.; Teles, S.A.; Silva, A.I.; Ramos Jr., A.N.; França, A.P.; Oliveira, A.N.M.; Boing, A.F.; Domingues, C.M.A.S.; Oliveira, C.S.; Maciel, E.L.N.; Guibu, I.A.; Barata, R.C.B.; et al. 2024. Inquérito de cobertura vacinal da hepatite A em crianças de 24 meses de idade residentes em capitais do Brasil, 2020. Epidemiologia e Serviços de Saúde. 2024; 33: e20231162. [citado 2025 Ago 22]. Disponível em: https://www.scielosp.org/article/ress/2024.v33nspe2/e20231162/pt/. Acesso em: 22 ago. 2025.
[9] Nunes, L. 2021. Panorama da Cobertura Vacinal no Brasil, 2020. Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. São Paulo. 2021. [citado 2025 Ago 22]. Disponível em: https://ieps.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Panorama_IEPS_01.pdf. Acesso em: 22 ago. 2025.
[10] World Health Organization. 2024. Global hepatitis report 2024: action for access in low-and middle-income countries. Geneva: WHO: Geneva. Disponível em; 2024 [cited 2025 Jun 12]. Available from: https://iris.who.int/handle/10665/376409. Acesso em: 12 jun. 2025.
[11] Nações Unidas para o Brasil. 2015. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015. [citado 2025 Jun 15]. Disponível em: https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf. Acesso em: 15 jun. 2025.
[12] Gleriano, J.S.;, Chaves, L.D.P.;, Ferreira, J.B.B. 2022. Repercussões da pandemia por Covid-19 nos serviços de referência para atenção às hepatites virais. Physis, 2022; 32(4):e320404. https://doi.org/10.1590/S0103-73312022320404.
[13] Gleriano, J.S.;, Chaves, L.D.P. 2023. Aspectos que fragilizam o acesso das pessoas com hepatites virais aos serviços de saúde. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem. Esc. Anna Nery Rev. Enferm, 2023;27: e20220334. https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2022-0334pt
[14] Gleriano, J.S.;, Chaves, L.D.P.;, Ferreira, J.B.B. 2022. Repercussões da pandemia por Covid-19 nos serviços de referência para atenção às hepatites virais. Physis, 2022; 32(4):e320404. https://doi.org/10.1590/S0103-73312022320404.
[15] Gleriano, J.S.;, Krein, C.;, Ludwig, M.G.;, Rodrigues, W.K.A.;, Barbosa, V.O.;, Almeida, E.C.,; et alPantoja, V.J.C.; Chaves, L.D.P. O enfermeiro da atenção primária à saúde na eliminação das hepatites virais. Enferm Foco 2024; 15(Supl 2):89-96. https://doi.org/10.21675/2357-707X.2024.v15.e-202411SUPL2.
[16] Gleriano JS, Krein C, Henriques SH, Chaves LD. 2024. Eliminação das hepatites virais: o que a enfermagem brasileira pode contribuir? Enfermagem em Foco. 2024;15(Supl2): S198-203. https://doi.org/10.21675/2357-707X.2024.v15.e-202426SUPL2.
[17] Gleriano, J.S.,; Krein, C.;, Chaves, L.D.P. 2024. Acesso, regionalização e estratégias de gestão para avançar na eliminação das hepatites virais. Revista Brasileira De Gestão E Desenvolvimento Regional, 20(1)RBGDR. 2024;20(1): 688-713. Disponível em: https://doi.org/10.54399/rbgdr.v20i1.6954.
[18] Gleriano, J.S.;, Chaves, L.D.P.,; Krein, C.;, Henriques, S.H. 2022. Contribuições da avaliação para a gestão do SUS no enfrentamento das hepatites virais. CuidArte. Enfermagem.. 2022; 16(2): 176-187.
[19] Almeida, E.C.; Gleriano, J.S.; Pinto, F.K.A.; Coelho, R.A.; Vivaldini, S.M.; Gomes, J.N.N.; Santos, A.F.; Sereno, L.S.; Pereira, G.F.M.; Henriques, S.H.; Chaves, L.D.P. 2019. Almeida EC, Gleriano JS, Pinto FKA, Coelho RA, Vivaldini SM, Gomes JNN, et al. Acesso à atenção às hepatites virais: distribuição de serviços na região Norte do Brasil. Revista Brasileira de Epidemiologia. 2019; 22(SUPPL 1):: eE190008.supl.1. https://doi.org/10.1590/1980-549720190008.supl.1.
[20] Gleriano, J.S.;, Krein, C.;, Chaves, L.D.P. 2024. Aspects that facilitate access to care for viral hepatitis: An evaluative research. Sao Paulo Medical Journal. . 2024;142(4): e2023078. https://doi.org/10.1590/1516-3180.2023.0078.R1.29112023.
[21] Gleriano, J.S.;, Chaves, L.D.P.;, França, R.N.C.,; Ferreira, J.B.B.,; Forster, A.C. 2022. A pandemia da COVID-19 expõe crise de gestão no Sistema Único de Saúde? Saúde Redes. 2022;8(3): 537-554.
[22] Ministério da Saúde Brasil (BR). 2024. Decreto n.º 11.908, de 6 de fevereiro de 2024. Institui o Programa Brasil Saudável – Unir para Cuidar, e altera o Decreto nº 11.494, de 17 de abril de 2023, para dispor sobre o Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de Outras Doenças Determinadas Socialmente – CIEDDS. 2024. Ministério da Saúde, Brasília, DF. [citado 2025 jun 25]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/D11908.htm. Acesso em 25 jun. 2025.
COMO CITAR
Gleriano, J.S.; Krein, C.; Chaves, L.D.P. Gestão em saúde e hepatites virais no Brasil: políticas e objetivos do desenvolvimento sustentável em perspectiva integrada. Revista E&S. 2025; 6: e2025023.
SOBRE OS AUTORES
![]() Josué Souza Gleriano – Doutor em Enfermagem Fundamental pela Universidade de São Paulo. Docente e pesquisador na área de Política, Planejamento e Gestão em Saúde. Universidade do Estado de Mato Grosso. Avenida Inácio Bittencourt Cardoso, 6967 E, Jardim Aeroporto, 78301-532, Tangará da Serra, Mato Grosso, Brasil.
Josué Souza Gleriano – Doutor em Enfermagem Fundamental pela Universidade de São Paulo. Docente e pesquisador na área de Política, Planejamento e Gestão em Saúde. Universidade do Estado de Mato Grosso. Avenida Inácio Bittencourt Cardoso, 6967 E, Jardim Aeroporto, 78301-532, Tangará da Serra, Mato Grosso, Brasil.
![]() Carlise Krein – Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Enfermagem Fundamental pela Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, EERP/USP. Rua Professor Hélio Lourenço, 3900, Vila Monte Alegre, 14040-902, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.
Carlise Krein – Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Enfermagem Fundamental pela Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, EERP/USP. Rua Professor Hélio Lourenço, 3900, Vila Monte Alegre, 14040-902, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.
![]() Lucieli Dias Pedreschi Chaves – Doutora em Enfermagem pela Universidade de São Paulo. Livre Docente pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Orientadora do Programa de Pós-graduação em Enfermagem Fundamental. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, EERP/USP. Rua Professor Hélio Lourenço, 3900, Vila Monte Alegre, 14040-902 Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.
Lucieli Dias Pedreschi Chaves – Doutora em Enfermagem pela Universidade de São Paulo. Livre Docente pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Orientadora do Programa de Pós-graduação em Enfermagem Fundamental. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, EERP/USP. Rua Professor Hélio Lourenço, 3900, Vila Monte Alegre, 14040-902 Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.
Quem editou este artigo
Luiz Eduardo Giovanelli